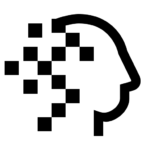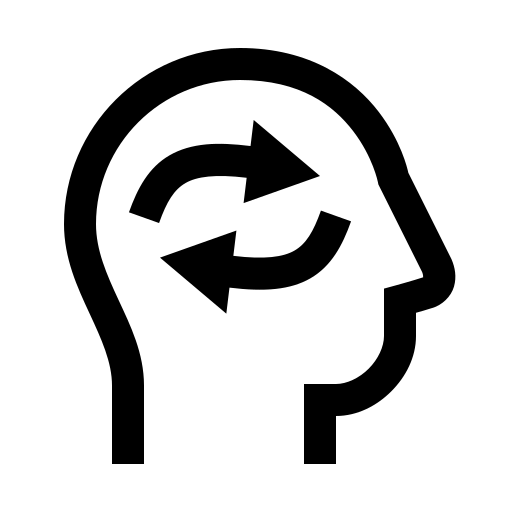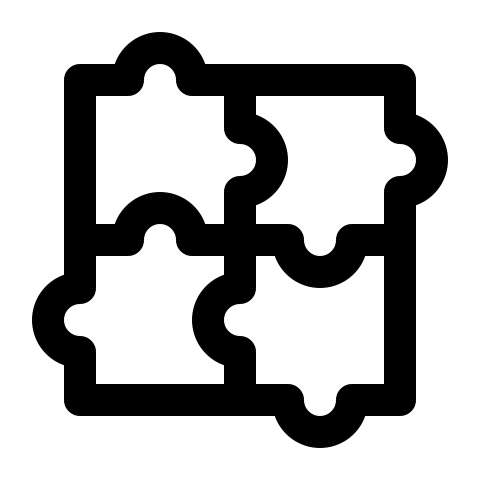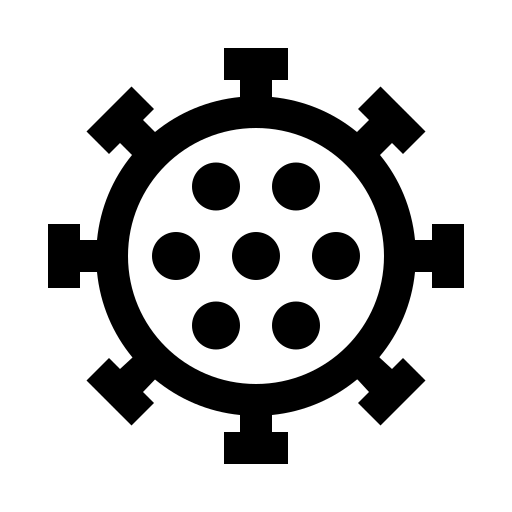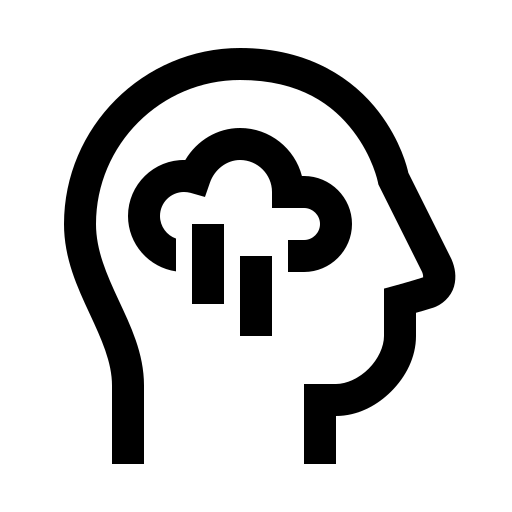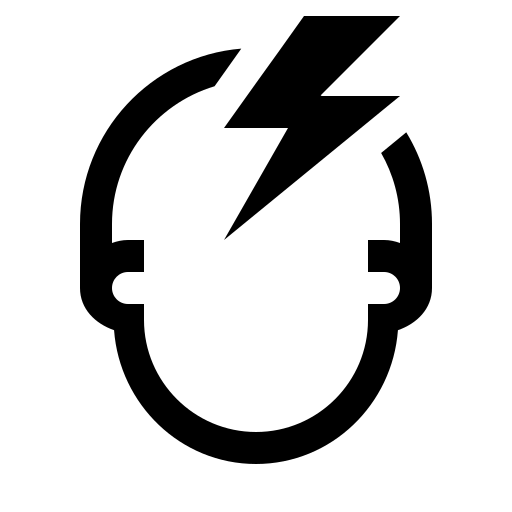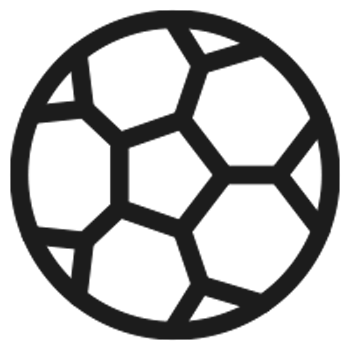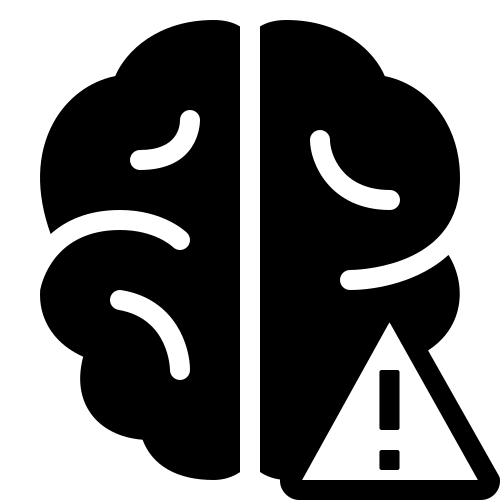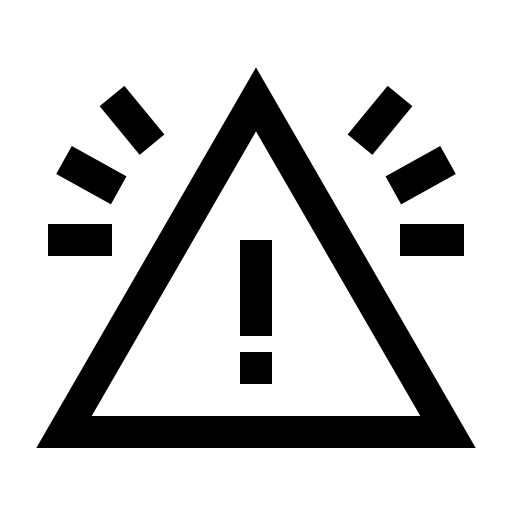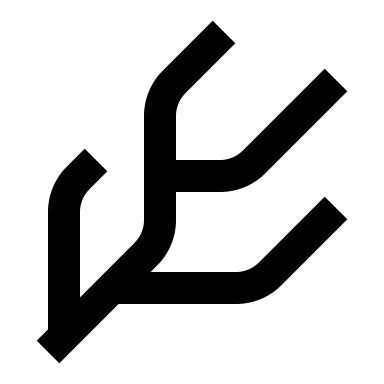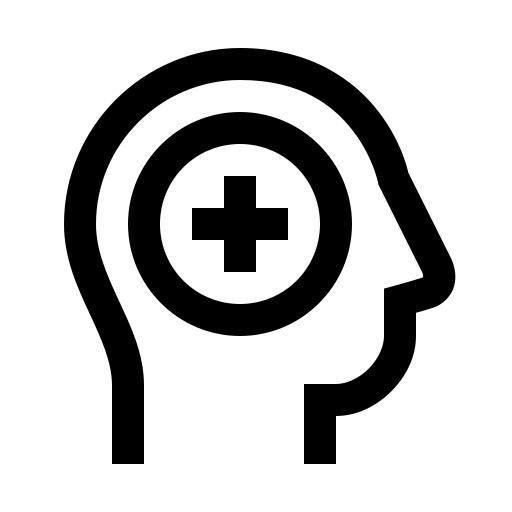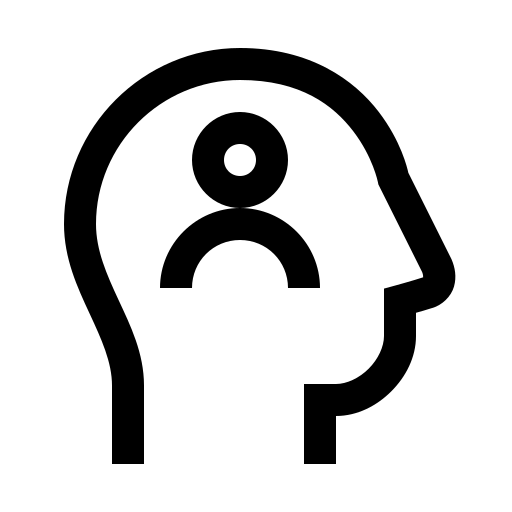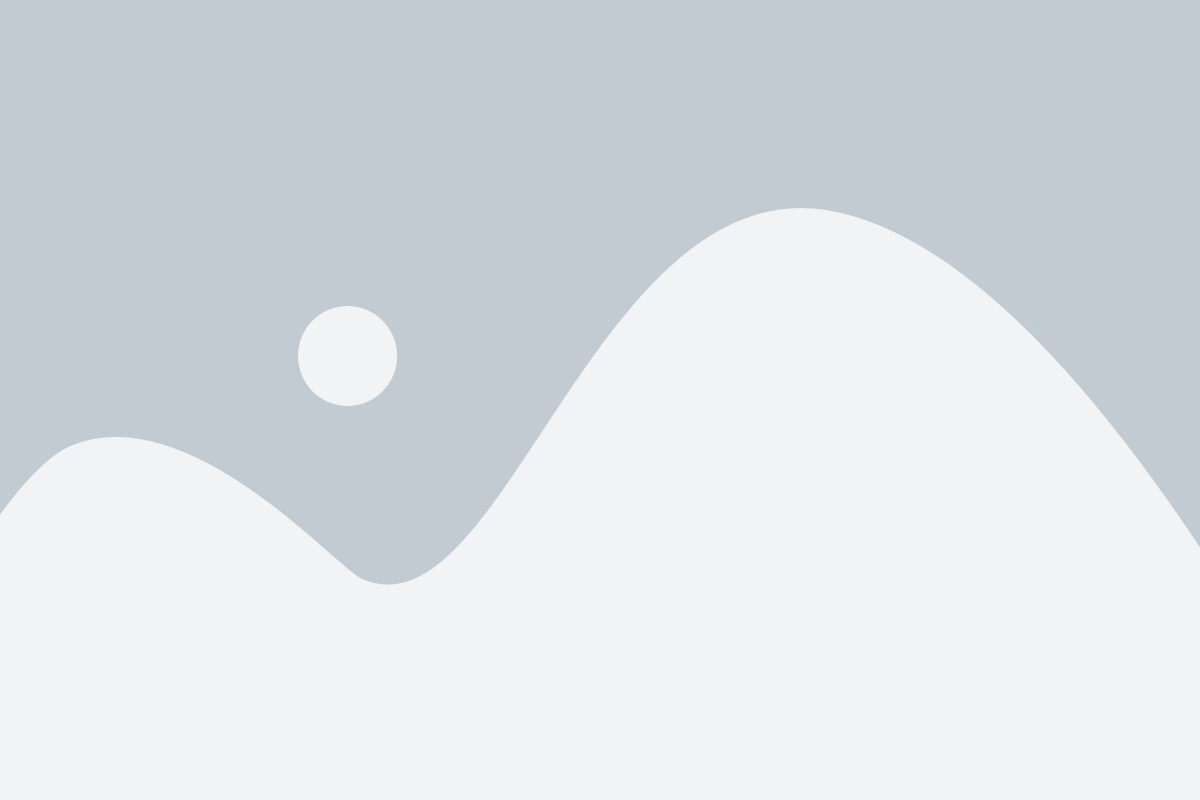O neuropediatra santista Marco Roque começou a ler artigos sobre Cannabis em 2015. Na época, eram estudos incipientes de um tema ainda cheio de tabus – muitos pais e médicos tinham receio de que causasse dependência.
No ano seguinte, os pais de uma criança com paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle pediram a Roque um tratamento com Cannabis. Foi ele quando ele voltou sua atenção ao tema. Encaminhou o paciente para uma colega especializada em epilepsia, que prescreveu CBD isolado. Quando soube dos resultados positivos, ficou animado a retomar os estudos.
O primeiro passo foi conferir sites americanos especializados, trabalhos científicos e literatura médica, além de participar de congressos, aulas e lives. Ao mesmo tempo, começou a avaliar as questões práticas envolvidas em usar aquela alternativa nos lugares onde atendia. Roque clinicava em São Paulo no serviço de neurologia infantil dos hospitais Santa Joana, Pró Matre, Santa Maria e no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus e também fazia avaliações na UTI pediátrica do Hospital Abreu Sodré da AACD. Em todos lugares, teria que considerar a burocracia e o fato de que os únicos óleos legalizados existentes serem os isolados importados.
Nem sempre há indicação
Entre 2016 e 2018, tratou sete pacientes com CBD isolado e controlou as crises em três deles. Os demais, por mais que mudasse as doses, não apresentaram resultados e ainda tiveram efeitos colaterais como sonolência, irritabilidade excessiva e constipação. Mesmo trocando formulação e dose, não obtiveram o resultado esperado. Roque lamenta que um dos três pacientes de sucesso teve que suspender o tratamento por causa do alto custo e por não ter conseguido judicializar o tratamento.
Atendendo todos os tipos de pacientes neurológicos, apenas 10% têm indicação para tratamentos com Cannabis. Parte deles têm ou epilepsias de difícil controle ou se enquadram no espectro autista. Desses pacientes, 30% apresentaram bons resultados, como a diminuição do número e frequência de crises epilépticas, melhora da atenção, da concentração, e dos períodos de irritabilidade e agressividade.
Religião e preconceito
Roque conta que a maior parte de seus pacientes tratados com Cannabis vêm referenciados por colegas. Começa com uma anamnese detalhada, faz exame neurológico, investigação laboratorial e genética para compreender o que levou ao quadro da epilepsia ou espectro autista. Este painel ajuda o médico a escolher os tratamentos. “O tipo de fármaco vai depender das crises e da doença de base”, diz.
Sempre começa com drogas tradicionais, de acordo com os sintomas. Quando não consegue o controle associando drogas, ou recorrendo a altas doses, aborda os pais para o uso da Cannabis. Mas muitos pais ainda têm medo. Ele orienta, sugere a leitura de artigos, que eles conversem com outros profissionais.
A religião é um dos impeditivos com que mais se depara, e lembra de um caso em que os pais aceitaram o tratamento, mas o pastor da igreja que frequentavam não. Passou um ano argumentando com os pais relutantes. Com dezenas de convulsões, o desenvolvimento do menino se deteriorava e Roque pedia que os pais não negassem tratamento em nome da fé. “Ainda tem muita discriminação por causa da droga. Eles não entendem que são vários componentes da Cannabis, o que fazemos é introduzir os derivados da planta”, diz.
Preço e burocracia dificultam acesso
O preconceito é apenas um dos motivos que levam Roque a nunca prescrever a Cannabis como a primeira abordagem. “Já temos medicação ideal para controle a preço acessível e poucos efeitos colaterais. O custo da Cannabis é proibitivo”, complementa. Os óleos de associações têm preços mais acessíveis, mas são poucas as que têm qualidade e proporções garantidas.
Como também atende no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, ele diz que quase nunca receita Cannabis a pacientes de baixa renda. “O serviço público não facilita o acesso para terapias ainda não reconhecidas no rol de procedimentos”, diz. São raras as mães que conseguem o produto, seja judicializando, seja por associações. Para ser usada no serviço público, precisaria haver protocolos para cada uma das doenças onde tem aplicação.
Apesar disso, Roque acredita que seja questão de tempo para que a Cannabis entre no SUS como medicamento de alto custo, mas lembra que o problema são as várias apresentações encontradas hoje no mercado: cada produtor e laboratório tem suas próprias apresentações diferentes. “O grande limitador é a falta de padronização. No SUS, o médico está restrito aos medicamentos que constam da lista”, diz. Sabendo das restrições, seus pacientes fazem outros tratamentos como dieta cetogênica e os padronizados com remédios alopáticos.
Apesar de perceber que os profissionais de saúde estejam perdendo o medo da Cannabis, ele acredita que a falta de adesão se deve hoje mais por falta de conhecimento do que por preconceito. Do lado do paciente, a questão socioeconômica é a que mais dificulta. “Eles tentam a judicialização e muitos não conseguem. Precisam ir à defensoria pública, apresentar documentos para que o juiz, que é leigo, entenda a parte médica. “A briga é grande porque o custo é alto”, diz.
Falta de padronização
Foi nesse movimento que Roque conheceu Neide Martins, mãe de Victor, um caso que ganhou grande repercussão a partir de uma matéria publicada em outubro deste ano no portal Cannabis & Saúde. Sexto neurologista consultado pela família, a mãe já chegou em seu consultório usando Cannabis importada e querendo judicializar. Roque lembra que avisou: “Tem burocracia, vocês estão dispostos?”. Era 2016, quando o processo era moroso e burocrático. Roque preparou os laudos, preocupado em justificar ao juiz o motivo de Victor estar tomando a Cannabis. Era importante que entendessem a gravidade do quadro e a necessidade daquele remédio específico.
Deram entrada no processo e esperaram cerca de 30 dias. A Anvisa ainda pediu mais documentos, eles enviaram e tiveram que esperar mais um mês. Cada tipo específico de produto exige um processo diferente. Se o paciente tiver que mudar o óleo em caso de ajustes que normalmente acontecem, um novo processo tem que ser aberto.
Roque acredita que, em até cinco anos, haverá algum tipo de padronização. Pelo menos dois tipos de produtos, como CBD isolado e outro com algum teor de THC. Só assim os processos judiciais ou mesmo a adoção pelo SUS serão possíveis.
Depois de 2018, Roque percebeu que “o pessoal foi compreendendo que não é maconha recreacional, mas sim, substâncias derivadas da Cannabis”. Além de se combater a discriminação, é preciso informar que a Cannabis é mais uma substância, que ajuda a para minimizar a quantidade e intensidade de crises. Afinal, lembra o médico, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.